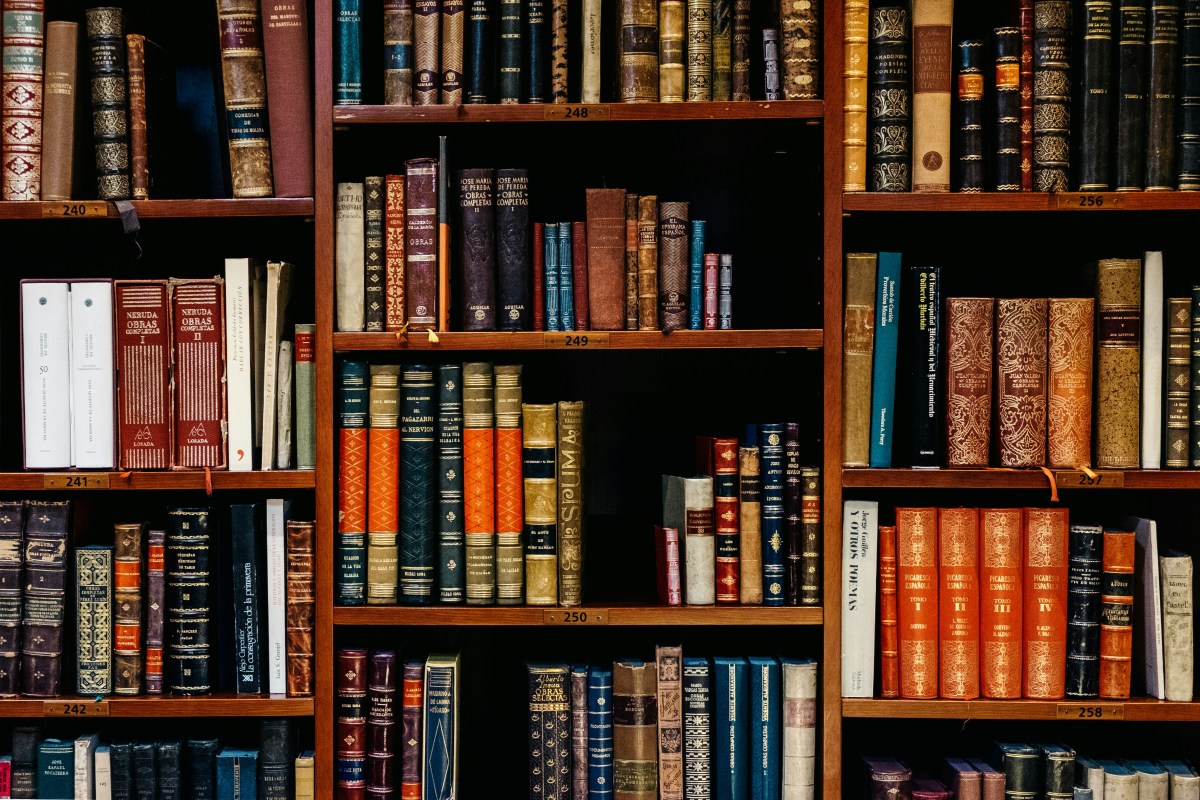As intervenções recentes de Francisco Bosco e Joel Pinheiro da Fonseca suscitaram a reflexão sobre a relevância ou não dos “intelectuais” (progressistas) e do mundo campi, o seu locus, na maioria das vezes. Foram, cada um à sua maneira, provocativos para alguns, ultrajantes para outros, por mobilizarem Olavo de Carvalho na conformação de seus argumentos. Não ratificando as reprovações ofensivas do escritor conservador, o colunista da Folha e o ensaísta carioca, ponderam que as denúncias (violentas) dele tinham lógica, no mínimo: tendo como parâmetro o que se tornou a vivência nas universidades brasileiras, sobretudo, as públicas. O ponto principal, dentre outros, para Carvalho, Bosco e Fonseca, é que a universidade brasileira – representada pelos seus agentes mais importantes, o corpo docente e, em menor medida, o discente – na esmagadora maioria se converteu, ou sempre foi, um espaço elitista, com irrisórias preocupações acerca de questões relevantes (social, política e culturalmente), e de pouca, ou quase nenhuma, organização plural da dinâmica quanto ao aprendizado e circulação de ideias. Respostas se sucederam na nova esfera pública (Habermas) e na vídeoesfera (Debray). Acadêmicos e acadêmicas rechaçaram um e outro por, de certo modo, subscreverem as missivas deselegantes do autor de O imbecil coletivo e Aristóteles em nova perspectiva: teoria dos quatro discursos. O que podemos meditar, criticamente, a partir das considerações de Francisco Bosco e Joel Pinheiro da Fonseca? Nessa primeira parte, trato da questão da pluralidade ou não do que se ensina nas universidades públicas hoje. Na segunda parte ensaio, uma definição de intelectual como contribuição ao debate de esquerda e ao pensamento crítico-radical.
De meu ângulo de observação, particularmente sobre a pluralidade nas ciências humanas e a presença de autores e autoras de direita, conservadores e liberais, nos currículos das universidades, proponho três argumentos.
Primeiro, tendo a concordar, parcialmente, com o raciocínio de Jessé de Souza em sua coluna no ICL-Notícias, de que as universidades no Brasil são espaços institucionais conservadores, liberais e, como pessoa negra, não poderia deixar de afirmar, absolutamente, racistas. O que significa dizer, por óbvio, que estão distantes de serem locais em que a esquerda enquanto tal e a esquerda enquanto estrutura prático-mental predominam; uma coisa são os objetos que se estudam nas ciências socias, na filosofia, na história, na teoria literária e nos estudos de cultura – nesse caso, existe uma força relativa dos autores e autoras do campo crítico –, outra coisa é o ambiente interno mesmo à universidade: as interações diárias, as posturas pessoais correntes, o trato na condução de detalhes do cotidiano, o perfil de quem toma as decisões e a quem interessam essas. Asseverar que um meio social composto por mais de 90% de pessoas brancas em seu corpo docente e discente e que, em contrapartida, apresenta um número considerável de mulheres negras trabalhando como secretárias de departamento, de direção, de reitoria, sem mencionarmos as empregadas terceirizadas da faxina que são de pele preta, – e tudo isso com um naturalismo cínico que sequer Machado de Assis pensou em dar forma literária em romances, contos e crônicas – é de esquerda, é inegavelmente, de um risível desmedido, mas esse, claro, não é o problema para nossos escritores; aqui há uma verdadeira frente ampla entre uma presumida “esquerda” universitária e eles.
Ainda sobre essa linha de pensamento, estudar e pesquisar Althusser e Benjamin, Lacan e Thompson, Adorno e Derrida, Habermas e Deleuze, Fraser e Benhabib, Butler e Freud não torna ninguém, verdadeiramente, de esquerda. Nem mesmo, com certa variação, ao se investigar Lênin, Rosa Luxemburgo, Trótski, Gramsci, Kautsky, Frantz Fanon, Daniel Bensaid etc. torna alguém de esquerda. Essas pessoas serão, antes, um/a especialista que pesquisa (profissionalmente) Althusser e Benjamin, Lacan e Thompson, Adorno e Derrida, Habermas e Deleuze, Fraser e Benhabib, Butler e Freud, e leitor ou leitora de Lênin, Rosa Luxemburgo, Trótski, Gramsci, Kautsky, Frantz Fanon, Daniel Bensaid etc. – mas não necessária, indiscutível e fatalmente de esquerda. É evidente que o caminho dele ou dela para essa corrente é melhor forjado; tem-se uma ponte teórica e de ideias para se chegar a ser de esquerda, crítico, e daí talvez um militante partidário, de movimentos populares e ativista da sociedade civil. Por outro lado, há um grupo de indivíduos que fazem parte desses últimos sem passar pela formação técnico-acadêmica em universidades de excelência.
Ademais, é preciso identificar com algum delineamento objetivo, se certas teorias de certos filósofos, sociólogos, historiadores e críticos da cultura são “realmente” de esquerda – é possível afirmar categoricamente que Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, John Rawls, Seyla Benhabib, Quentin Skinner, Richard Rorty, para citar alguns, sejam de esquerda? – e se assim o forem, qual especificidade? Em relação a que outras abordagens? Qual o impacto dela ou delas na luta de classes? Bosco e Fonseca também não se questionam acerca da constelação de disciplinas nas humanidade. É possível mobilizar o mesmo argumento para a teoria literária e a ciência política? Para a história e a sociologia? Para a filosofia e o direito? Enquanto na teoria literária a crítica marxista-materialista tem presença inconteste (György Lukács, Theodor Adorno, Raymond Williams, Roberto Schwarz, Fredric Jameson, Paulo Arantes, Walter Benjamin, Terry Eagleton), a ciência política e/ou teoria política ainda possui traços epistemológicos da “Guerra Fria” – com raras exceções corajosas como o departamento de ciência política da Unicamp.
Segundo, o ensaísta e o colunista sustentam a ausência de bibliografia conservadora nos cursos, disciplinas, dissertações e teses de pós-graduação. Bosco cita Michael Oakeshott como exemplo e nesse ponto a afirmação de um e outro tem de ser melhor definida. Se Oakeshott – que diga-se, tinha profunda aversão, antipatia, repulsa e hostilidade à democracia de massas ou popular – é um autor esquecido, não se pode dizer o mesmo de Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Joseph de Maistre, Carl Schmitt, Raymond Aron e Hannah Arendt. O que Olavo de Carvalho exigia era a inserção de autores desconhecidos (o que não é um critério para se ler/estudar ou não um autor) do circuito acadêmico brasileiro (e arrisco a dizer latino-americano). Isso era agravado pela característica do mercado editorial nacional e seu veio pragmático. Nomes como Xavier Zubiri, Louis Lavelle, Georges Bernanos, Mortimer Adler, René Guenon, Antonin G. Sertillanges, Bertrand Jouvenel, passaram a ser publicados após as próprias intervenções de Olavo de Carvalho: assim, é responsabilidade da direita o esforço de fazer emergir nas discussões “cultas” e “eruditas” seus autores e autoras (não-convencionais) de predileção, e não, de certo modo, das universidades públicas em um primeiro momento. Se a direita brasileira se contentou por anos, a estar presente e conquistar espaço na imprensa corporativa (como Joel Pinheiro da Fonseca o tem, e Francisco Bosco, um liberal-progressista que também o tem) e abdicou de disputar o âmbito das universidades públicas, um campo/espaço esse com modalidades de sentimentos que lhes seriam favoráveis como dissemos, foi por preferência, conveniência e circunstância ideológica. O próprio Olavo de Carvalho passou mais de duas décadas escrevendo para a mídia tradicional conforme pesquisa do historiador Lucas Patschiki. Francisco Bosco e Joel Pinheiro da Fonseca têm de questionar por que donos e donas de casas editorias (de viés mercadológico) não se esforçam, coletivamente, para ampliar a circulação dos autores a que se referia Olavo de Carvalho – induzindo o interesse pela teoria política de direita. Cobrar, implicitamente, da esquerda (a universitária ou outra) não me parece o mais interessante: já somos totalitários, contra as liberdades individuais, defensores de ditadores e tiranos, corruptos, fiadores de crises sucessivas do país. O que nos faltava era sermos avalizadores da não-presença de Eric Voegelin e Roger Scruton nas universidades e nos suplementos de cultura (da Folha, Estadão, O Globo, Correio Braziliense). A obscenidade de nosso tempo e a intransigência mental de certos setores chega ao nível de exigir de adeptos do pensamento crítico, socialista, comunista e progressista, que defendam as ideias de direita, o conservadorismo e o liberalismo. Respeitar, ofertar o devido reconhecimento das qualidades intelectuais e força teórica de escritores de direita não se confundem com a defesa e a disseminação deles.
Terceiro, a relativa dificuldade do pensamento de direita, conservador-liberal, em se conformar como sistema de cultura – pesquisa, leitura, disciplinas, teses/dissertações, encontros de área – no contexto das universidades e mesmo nas discussões públicas tem uma lógica histórico-social e histórico-cultural, ao menos entre nós. Uma nota acadêmica nessa chave se faz necessária. Ora, afirmar que as ideias conservadoras estão ausentes das universidades é, novamente, impreciso e desatento. Bosco e Fonseca, de modo equivocado, pois constroem discursos esvaziados de conhecimento, obliteram que pensadores como Oliveira Vianna, Alberto Torres e Azevedo Amaral são estudados nas ciências humanas brasileiras – até este momento, malgrado a contribuição inestimável para o entendimento da sociedade brasileira proporcionado por seus ensaios de interpretação, ainda não são considerados escritores de esquerda.
Tratando dos teóricos exigidos pelo ensaísta e pelo colunista da Folha, há um aspecto peculiar em termos compreensivos e socioculturais como dissemos. O pensamento conservador clássico (europeu, fundamentalmente) tem na premissa nostálgica do passado ponto fundamental. Assim, a obra de Oakeshott, expressa, por exemplo, um elogio elegante, sútil e proseado das formas de organização do “governo da Inglaterra Medieval”: esse não se baseava em absoluto no “estabelecimento de coisas boas em abstrato, […] [na] perfeita vida humana”, mas somente em “provisões judiciais de estilo cético”.1 E sir Roger Scruton (agraciado com honrarias do Estado húngaro pelas mãos de Viktor Orban) asseverava que deve se desconfiar da democracia por desprezar os desejos dos “que já morreram, […] [o desejo] de gerações passadas”;2 com efeito, para Scruton, não podemos afiançar sem meditações cuidadosas o fim da Monarquia – “[pois] os monarcas são, num sentido muito especial, a voz da história, e o modo muito acidental [sic] por meio do qual eles recebem o cargo enfatiza as bases de sua legitimidade na história de um povo, de um lugar e de uma cultura”.3 Transpostos para a experiência e entendimento de si da sociedade brasileira (aqui é necessário fazer alusão ao nosso cinismo), particularmente, no espaço das universidades públicas, converteriam-se em um conservadorismo difícil.
Definitivamente, para além das rebeliões quilombolas – a auto-organização política dos negros e negras (ex)escravizados irradiados a partir de Palmares – não temos um passado de glórias. Nosso pretérito, infelizmente (ou felizmente para alguns…) Bosco e Fonseca, é o da senzala, da violência do chicote, do atraso bárbaro, do latifúndio, do mandonismo, dos golpes empresariais-civis-militares e tutti quanti. A leitura, estudo e pesquisa de certos autores e obras, mesmo em uma cultura de desfaçatez de classe como a nossa, “obedece”, por vezes, estruturas de sentimentos presentes – em linguagem hegeliana, a filosofia são as vicissitudes do mundo histórico em contradição. Os alemães, por exemplo, não leram Thomas Hobbes com afinco no período de 1900 a 1933 por mera fortuidade; o Leviatã, era a teorização que proporcionava, naquela quadra, a melhor possibilidade de entendimento sobre o significado do Estado moderno em uma sociedade abatida por crises políticas, revoluções e exigências de formação institucionais que fossem condizentes com os projetos da nação. Nossa busca eterna de superação de nosso passado infame responde a ânsia pelo pensamento crítico, de “esquerda”, ao longo de nossa história social, política, cultural e intelectual – seria um tanto peculiar se ao invés de Gramsci e Foucault, predominasse por aqui, nos campi, Jordan Peterson e Russell Kirk. As exigências de Francisco Bosco e Joel Pinheiro da Fonseca são legítimas, mas necessitam de formulações mais bem elaboradas, coerentes e consequentes (assumindo as implicações de autor A ou B) – e, talvez, obscenas como às do Brasil Paralelo e sua defesa da sociedade remota, inclusive a nossa (e que ainda persiste). Determinar que uma suposta “esquerda” universitária e o pensamento crítico (socialista, comunista e progressista) o façam, parece-me um pouco ingênuo, para não dizer ridículo.